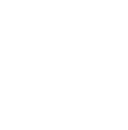Covid: “Decisão de adiar gravidez é da mulher e do médico, não do governo”
Do Universa

Ao ouvir que o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Parente, pediu que as mulheres adiem a gravidez até haver uma melhora da pandemia de covid-19, a antropóloga Débora Diniz não ficou surpresa. “É uma história que se repete quando as emergências sanitárias não são capazes de colocar a saúde reprodutiva no centro de qualquer resposta”, diz.
A pesquisadora de questões de gênero e autora de duas edições da Pesquisa Nacional de Aborto (2010 e 2016) lembra que essa recomendação para a mulher não engravidar também foi feita durante outra epidemia, em 2015: a do zika vírus, que provoca microcefalia em fetos.
Segundo reportagem da Folha desta quarta (14), a média semanal de mortes maternas por covid-19 em 2021 já é mais do que o dobro da média de 2020. Passou de 10,4 óbitos (449 mortes em 43 semanas de pandemia em 2020) para 22,2 nas primeiras semanas deste ano, com 289 mortes. Embora estudos mostrem que a gestação e o pós-parto aumentam o risco de complicações e morte por covid-19, no Brasil o alto número de óbitos maternos associados à doença é atribuído, principalmente, à falta de assistência adequada, segundo especialistas.
“Medida eficaz mesmo para garantir a segurança das mulheres é dar a elas acesso incondicional à informação e aos métodos de planejamento familiar, diz Diniz. ‘E reconhecer que a mulher grávida pode ou não adoecer de covid. Mas temos no negacionismo dos políticos de saúde no Brasil uma ‘desimaginação’ de que o corpo que pode adoecer é um corpo grávido.”
A recomendação do secretário Parente foi feita na mesma semana em que as deputadas federais Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) protocolaram, na Câmara, um projeto de lei que pede a inclusão de grávidas e puérperas no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19.
Melania Amorim, da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, diz que o Ministério da Saúde se pronunciou tardiamente sobre a mortalidade de gestantes na pandemia. Mas, para ela, é preciso sim que se faça esse planejamento materno levando em consideração que o sistema de saúde do país está voltado para a covid-19.
“O governo pedir para adiar a maternidade não pode ser uma medida isolada. As mulheres devem ter o direito de saber os riscos que correm e ter sua autonomia respeitada”, diz a ginecologista. ‘Como escreveu Simone de Beauvoir, basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. E veio a crise e mais uma vez nossos direitos são colocados em cheque.”
Ela afirma, no entanto, que é preciso mesmo fazer esse planejamento materno levando em consideração que o sistema de saúde do país está voltado para a covid-19. “Não sou dona do útero de ninguém, mas não é uma época boa para isso [engravidar]. Entendo que nem para todas é possível adiar, mas é uma decisão que deve ser tomada considerando todos os riscos. Só não pode falar: ‘Se vire e não engravide, até porque, com a pandemia, ocorreu uma diminuição na oferta de métodos contraceptivos.”
Decisão deve ser tomada junto a ginecologista
Para o presidente da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), o médico Agnaldo Lopes, a decisão de adiar ou não uma gravidez planejada deve ser tomada pela mulher junto a seu ginecologista, levando em consideração fatores de risco como hipertensão, doença cardiovascular e diabetes. E então, diz, elas mesmas devem avaliar os riscos e benefícios de adiar a gravidez. Outros fatores, segundo o ginecologista, também precisam ser levados em conta.
“E quando uma mulher de 42 anos tem que adiar a gravidez? A gente não sabe como vai ser o futuro. Mas é importante frisar que a mulher tem que estar no centro da tomada dessa decisão junto ao obstetra.”
Lopes também diz que não dá para afirmar que esse aumento no número de mortes de mulheres grávidas na pandemia se dá principalmente por causa da covid-19. “A gente não sabe necessariamente se é por causa da covid-19, mas sabemos que grande parte delas não teve assistência. E metade delas não foi para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Então, é difícil interpretar os dados”, afirma.