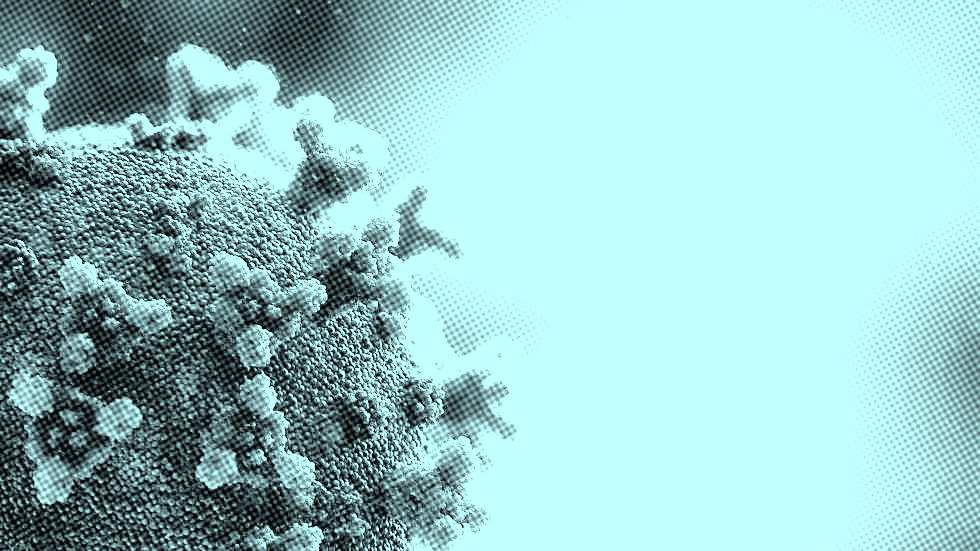
À medida que a evidência científica de que o uso de hidroxicloroquina (HCQ), com ou sem o antibiótico azitromicina (AZ), no combate à COVID-19 em pacientes hospitalizados é, na melhor das hipóteses, inútil – quando não perigoso –, os apóstolos fervorosos da cura mágica abraçam, com gosto, uma manobra clássica do repertório das pseudociências: mudam de alegação, adotando uma que confunde com mais facilidade. No caso, a de que a combinação HCQ+AZ funciona sim, mas requer uso precoce, “bem no início dos sintomas”, antes que se faça qualquer exame diagnóstico.
O recuo é maroto por uma série de motivos, alguns dos quais estão entre os que tornam inválido o suposto “estudo” conduzido pelo grupo Prevent Senior sobre o assunto. Vamos citar apenas dois, para não esticar muito a conversa.
Primeiro, se você não tem diagnóstico fechado, você não sabe o que está tratando – ainda mais no caso de uma doença como COVID-19, cujos sintomas iniciais confundem-se facilmente com gripes, resfriados, infecções de garganta ou alergias. Logo, não é correto afirmar, caso os sintomas desapareçam após o uso do medicamento, que foi o “uso precoce de HCQ” que curou a COVID-19. Ninguém sabe nem se era mesmo COVID-19!
Segundo, sintomas de gripes, resfriados, alergias, e da própria COVID-19, tendem a desaparecer por conta própria na maioria das vezes. Atribuir o alívio à HCQ tem tanta lógica quanto atribuí-lo ao café da manhã ou à música que tocou no rádio meia hora antes do último espirro. Sem estudos observacionais bem conduzidos, é impossível determinar quais medidas ou comportamentos poderiam, de fato, ter afetado o resultado; sem estudos clínicos bem controlados, é impossível determinar, entre os candidatos, qual (ou quais) realmente foram importantes.
Resumindo: o uso precoce, logo aos primeiros sintomas e na ausência de diagnóstico, é a receita ótima para dar a impressão de que o remédio funciona, mesmo que ele não sirva para nada. Não apenas cidadãos comuns, mas também médicos dedicados podem cair nessa.
A promoção do uso “precoce” vem circulando de diversas formas nas redes sociais. Consta, por exemplo, de uma lista de recomendações de automedicação (que, como de costume, vem acompanhada de um alerta cínico sobre os perigos da automedicação) que circula no Facebook sob o nome de “Protocolo de Marselha”.
Pelo menos uma das postagens a que tivemos acesso já havia sido compartilhada, entre 5 e dez de maio, mais de uma centena de vezes. “Marselha”, claro, é o nome da cidade francesa em que atua o pesquisador francês Didier Raoult, de péssima reputação, que numa série de artigos científicos de qualidade abissal teria demonstrado a eficácia da combinação HCQ+AZ contra o novo coronavírus.
Células
Tenta-se encontrar uma justificativa teórica para o uso precoce da HCQ com base nas supostas atividades antivirais desse fármaco. A tese é de que, usando o medicamento logo após o aparecimento dos primeiros sintomas, ou de forma profilática, seria possível impedir a replicação do vírus, levando a uma resolução rápida da doença.
Ainda não existe um estudo completo, bem conduzido, sobre os efeitos da HCQ, ou HCQ+AZ, em pacientes de COVID-19 cujos sintomas ainda são recentes. Mas já há diversas linhas de pesquisa bem desenvolvidas que sugerem, fortemente, que assim como no caso dos pacientes hospitalizados, o tratamento é inútil, se não perigoso.
O caminho normal de um medicamento começa na bancada do laboratório, com cultura de células, o que chamamos de etapa “in vitro”. Antivirais começam a ser testados aqui, geralmente em células comuns e fáceis de cultivar, chamadas VERO, originárias de rins de macacos. Há estudos que mostram a HCQ funcionando bem nesta fase para uma série de viroses, incluindo COVID-19. O problema é que ela fracassou em todas as etapas seguintes.
Um grupo de cientistas franceses, incluindo membros da Inserm, um órgão público de fomento à pesquisa biomédica e de saúde pública, publicou recentemente um estudo que testou a HCQ contra COVID-19 em células específicas do sistema respiratório, aquelas que o vírus SARS-CoV-2 realmente ataca, e não mais células genéricas. Nas células específicas, o efeito antiviral desapareceu.
Para quem acompanha a literatura, isso não é surpresa. Sabemos que o mecanismo de entrada do vírus em células VERO é diferente do usado para penetrar as células-alvo, do trato respiratório. Nas células VERO, o único caminho para o vírus é uma via dependente da acidez do meio, chamada via de endossomo. Aqui, a HCQ, ao alterar o nível de acidez, bloqueia o vírus. Já nas células do sistema respiratório existe uma entrada que é independente desse fator. Essa segunda via, inclusive, é descrita como a responsável pela maior severidade da doença.
Mesmo falhando na cultura de células, seguiu-se para testes em macacos. Os animais foram inoculados com o vírus SARS-CoV-2 e desenvolveram sintomas da doença. Os autores testaram a HCQ, em combinação ou não com azitromicina (o tal “Protocolo de Marselha”), e compararam seu efeito ao de um placebo. Utilizaram regimes de doses diferentes, fizeram a intervenção de forma profilática, e também no início do pico viral; logo após o pico viral; e ainda, após o aparecimento de sintomas graves. Ou seja, cobriram todas as fases da doença.
O resultado, infelizmente, foi desfavorável para a HCQ. Não foram observados redução de sintomas ou da quantidade de vírus no corpo dos animais em nenhum momento, nem com uso profilático, nem com uso precoce. Os autores concluem que a HCQ não deve ser usada como um antiviral para COVID-19.
Lúpus e artrite
Outra alegação feita pelos proponentes do “Protocolo de Marselha” – e que seria, assim como o efeito antiviral em células VERO, parte da lógica por trás do uso da HCQ contra a COVID-19 – é de que pacientes com lúpus ou artrite reumatoide, que usam HCQ rotineiramente para controlar essas doenças autoimunes, estariam protegidos da COVID-19, ou não evoluem para casos graves da doença. Mas essa afirmação é falsa.
A Aliança Global de Reumatismo reuniu dados sobre pacientes em tratamento com HCQ que foram acometidos por COVID-19. O estudo identificou cerca de 200 pacientes com lúpus e artrite reumatoide nessas condições, alguns dos quais se tratavam normalmente com HCQ, e outros que não.
A taxa de hospitalização foi a mesma entre os que usavam e não usavam HCQ. O uso de ventilação e necessidade de intubação também foram equivalentes nos dois grupos, mostrando que o uso constante de HCQ não protegeu esses pacientes, nem impediu que evoluíssem para forma grave da doença.
Um argumento possível é de que a dose habitual, usada por pacientes de doenças autoimunes, não seria suficiente para atingir o efeito antiviral observado “in vitro” (e, vamos lembrar, só em células genéricas, não no tipo de célula que o vírus realmente ataca). Mas nem no trabalho feito em animais, onde foram testadas concentrações crescentes, houve algum efeito. O que se viu nos macacos foi danos nos rins e no fígado.
Frente a novas evidências, o bom cientista altera suas convicções e atitude. O pseudocientista, no entanto, cria distrações e inventa desculpas. Quando saíram os primeiros trabalhos com resultado negativo, culparam a falta de azitromicina; depois, o erro estava na dosagem. Agora, o crucial mesmo é o momento de usar. Qual será a próxima?
Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora do livro “Ciência no Cotidiano” (Editora Contexto)
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência e e coautor do livro “Ciência no Cotidiano” (Editora Contexto)

